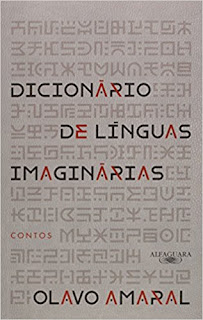Quando Belchior
desapareceu, uma mar de especulações começou a surgir a respeito das possíveis
razões que teriam levado um dos principais autores da música brasileira a optar
pelo autoexílio. Muito se disse, mas pouco ou quase nada foi explicado. As respostas
para os questionamentos levantados jamais serão conhecidas, pois o principal
nome envolvido já não está mais entre nós, e o que quer que venha a ser dito, será
sempre discutível.
Belchior morreu no dia 29
de abril de 2017, deixando um vazio na cultura brasileira que dificilmente
poderá ser preenchido por outro artista do mesmo nível intelectual, uma vez que
Belchior era muito mais que um cantor/compositor. Belchior era, na verdade, um
grande pensador, um filósofo, como pode ser constatado na qualidade da sua
poética, preenchidas por temáticas de cunho existencialista, político e
sociocultural. Se analisada apenas superficialmente, sua obra é um perfeito
repositório da cultura ocidental, permeada por referências da literatura, do
cinema, da música e da canção. Vista de forma mais íntima e aprofundada, sua
poética abrange um anglo muito maior da percepção do humano.
A obra de Belchior, como
já evidenciamos aqui, em outras postagens, já começa a ser estudada pela
Academia, tal como vem ocorrendo com trabalhos que deitam olhos sobre a poética
de Bob Dylan e Chico Buarque, entre outros. Dessa forma, todo e qualquer
trabalho que venha a ser publicado sobre a obra do artista cearense será uma
contribuição a mais para que se possa compreender o homem e a obra de, como ele
mesmo dizia, um dos maiores nomes da música popular brasileira.
 Nesse sentido,
registramos a publicação do livro Belchior:
a história que a biografia não vai contar, de Jorge Claudio de Almeida
Cabral. Trata-se de uma edição do autor, publicada em Porto Alegre, no final ano
de 2107. O livro de Cabral está organizado em vinte e quatro capítulos, sendo o
primeiro intitulado “Primeira parte do último dia”, enquanto o segundo é “Quem
era ele, entre eles?”. Os capítulos são curtos e escritos de maneira leve, como
se o autor conversasse amistosamente com o leitor, falando sobre uma terceira
pessoa, um amigo com que conviveu e de quem sente muita saudade. O trabalho
traz fotos inéditas de Belchior, assim como QR CODES, que permitem ao leitor
assistir imagens raras do artista no convívio com a família do autor. Explica-se:
é que após aquela entrevista de Belchior a um canal brasileiro de televisão,
durante a qual o cantor estava visivelmente incomodado e constrangido,
Belchior, que já havia se afastado dos palcos e, consequentemente, da mídia,
resolveu abandonar o país onde estava, o Uruguai, e voltar ao Brasil.
Nesse sentido,
registramos a publicação do livro Belchior:
a história que a biografia não vai contar, de Jorge Claudio de Almeida
Cabral. Trata-se de uma edição do autor, publicada em Porto Alegre, no final ano
de 2107. O livro de Cabral está organizado em vinte e quatro capítulos, sendo o
primeiro intitulado “Primeira parte do último dia”, enquanto o segundo é “Quem
era ele, entre eles?”. Os capítulos são curtos e escritos de maneira leve, como
se o autor conversasse amistosamente com o leitor, falando sobre uma terceira
pessoa, um amigo com que conviveu e de quem sente muita saudade. O trabalho
traz fotos inéditas de Belchior, assim como QR CODES, que permitem ao leitor
assistir imagens raras do artista no convívio com a família do autor. Explica-se:
é que após aquela entrevista de Belchior a um canal brasileiro de televisão,
durante a qual o cantor estava visivelmente incomodado e constrangido,
Belchior, que já havia se afastado dos palcos e, consequentemente, da mídia,
resolveu abandonar o país onde estava, o Uruguai, e voltar ao Brasil.
De volta ao país, o
compositor cearense passou a perambular pelas ruas e por casas de amigos e,
como aquela personagem de Tennessee Williams, a depender da ajuda de estranhos.
Foi numa dessas situações que o advogado Jorge Cláudio de Almeida Cabral, fã do
artista, o conheceu pessoalmente e o convidou a morar por um tempo na sua
residência, primeiramente no seu sítio, situado na cidade de Guaíba, na
localidade de Serrinha, a 60 km de Porto Alegre e, posteriormente, na sua casa
em Porto Alegre. Assim sendo, enquanto o Brasil queria saber onde estava o
autor de “Alucinação” naquele conturbado ano de 2013, sabemos agora que ele
estava sendo muito bem cuidado e protegido pela família de Cabral.
São os detalhes dessa
convivência que são contados em Belchior:
a história que a biografia não vai contar (2017), de Jorge Claudio de
Almeida Cabral.
Serviço: